E então era o mundo… A cultura rock’n’roll, mesmo que tendo aberto canais de diálogo com outras músicas desde meados dos anos 50, raramente o fizera fora dos eixos das descendências da cultura anglo-americana. Na segunda metade dos anos 80 três figuras maiores do panorama pop/rock deram voz a outras músicas de latitudes e longitudes para lá destas rotas habituais, abrindo espaço para um outro volume de atenções de novos públicos para um mais vasto leque de referencias. É claro que desde sempre houvera registos de músicas locais e os ouvidos mais curiosos já conheciam as gravações de recolha de tradições de outras paragens distantes. Mas foi sob novos focos mediáticos que o fenómeno da world music ganhou então mais adeptos e um mais evidente espaço de mercado (dos discos aos concertos e festivais), abrindo um mapa mais alargado para a música de todo o mundo, sobretudo a partir de finais dos oitentas e inícios dos noventas. Esta visibilidade foi em parte vitaminada pelo mediatismo conquistado pelas aberturas de horizontes sublinhadas por músicos como Peter Gabriel, que fundaria a editora Real World, essencialmente dedicada às músicas do mundo, ou David Byrne, que criaria a Luaka Bop, etiqueta com importante atenção por outras geografias. Contudo, antes de um e outro terem apresentado as respetivas editoras dedicadas à word music, já Paul Simon tinha assinalado uma importante contribuição para esta história. Este último não criou nem uma editora nem fez dessa curiosidade além-fronteiras um pilar estrutural de todos os momentos da sua carreira futura. Mas quando, em 1986, lançou “Graceland”, as suas canções levaram a música do Sul de África a um patamar de (re)descoberta que muito contribuiu para todo este cenário que então mudava.
Não foi a primeira vez que a canção pop ocidental visitou África, naturalmente, e podemos recordar gravações de Malcolm McLaren no seu álbum de estreia “Duck Rock” (1982) ou a presença de percussões (o chamado “Burundi beat” em alguma da new wave britânica, dos Bow wow wow aos Adam and The Ants… E vice-versa… Em África há muito que o afrobeat gerava discos marcantes e o Senegal se afirmava como um pólo de invenção de uma música moderna africana. Paul Simon não partiu por isso para uma aventura ao jeito de um pioneiro perante o desconhecido. Procurou, antes, reinventar a sua escrita de canções, onde se aliavam ecos da folk e de um saber de contador de histórias com os temperos instrumentais e vocais que resultaram não apenas de sessões de trabalho na África do Sul como da integração de uma série de músicos em estúdio. Incluindo a presença marcante das vozes do coletivo Ladysmith Black Mambazu ou a participação de Youssou N’Dour (então ainda internacionalmente pouco conhecido) nas percussões, entre uma multidão de colaboradores, Paul Simon não procurou contudo fazer de “Graceland” um álbum “africano”, integrando antes elementos e referências numa coleção de canções com as suas marcas de escrita distintivas e com espaço para outros diálogos que se notam ora na contribuição pontual de Linda Rondstat em “Under African Skies” ou dos Everly Brothers no tema-título.
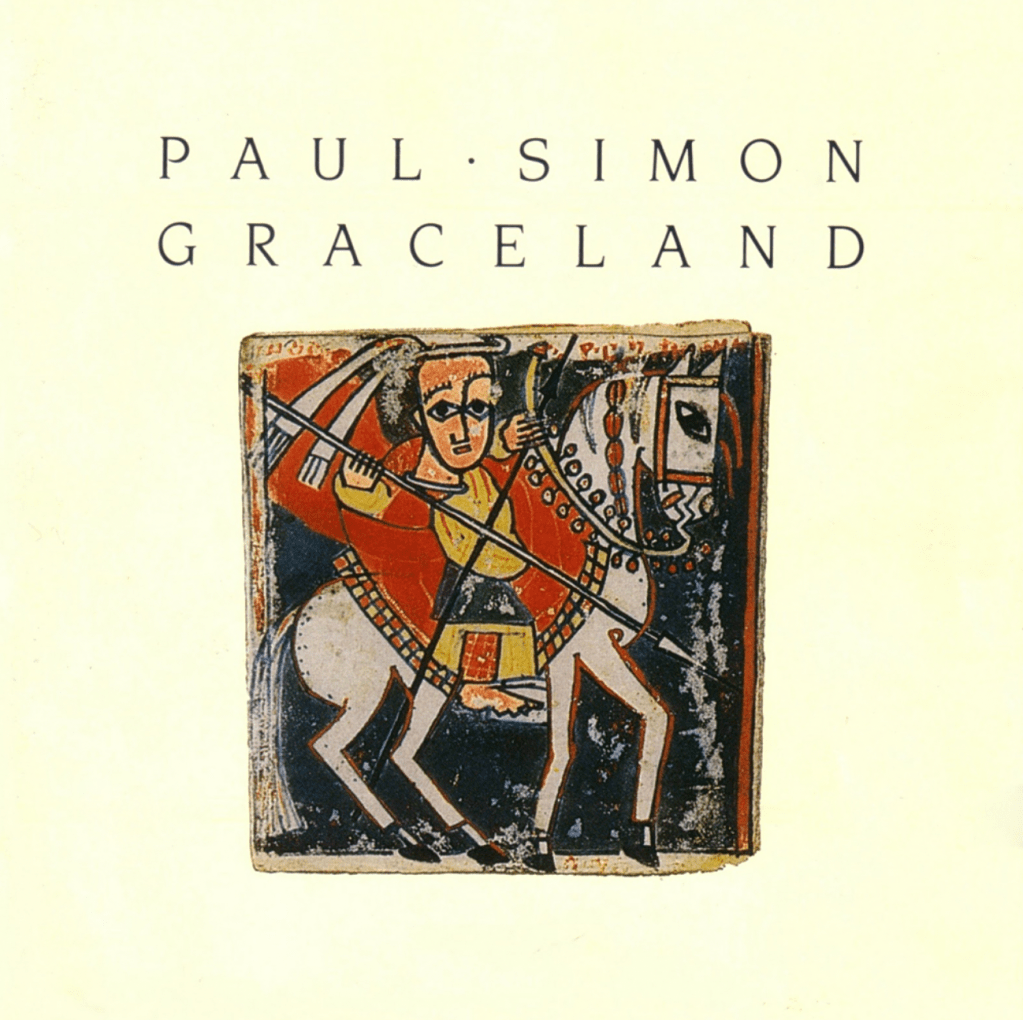
Na altura “Graceland” levantou debate político. Viviam-se ainda os dias do apartheid na África do Sul e estava vigente um embargo cultural que Paul Simon simplesmente não respeitou. O disco ganhou depois impacte ainda maior no mapa da cultura popular ao ser um dos grandes vencedores dos Grammys no ano seguinte, com vendas milionárias a traduzir a adesão em massa às canções, as suas histórias e cenários. O disco acabaria por representar um episódio num ciclo de álbuns marcados pela presença de músicas de outras geografias, que teve continuidade em “The Rhythm of The Saints” (1990) com o Brasil nas entrelinhas e “Stranger To Stranger” (2016), desta vez escutando percussões com origens em vários pontos do globo.





Deixe um comentário